A crucificação de Cristo não foi apenas um evento religioso – foi um assassinato político orquestrado por duas forças que se sentiam ameaçadas. Compreender essa dimensão transforma nossa leitura dos Evangelhos e desafia nossa forma de viver a fé hoje.
É tentador pensar que Jesus morreu apenas por questões “espirituais” – que sua crucificação foi resultado de disputas teológicas ou de um plano divino desconectado das realidades humanas. Mas os Evangelhos contam uma história diferente, mais incômoda: Jesus foi executado porque representava uma ameaça política concreta. Não uma ameaça de insurreição armada ou golpe de Estado, mas algo mais profundo – ele proclamava um Reino alternativo que desafiava tanto a elite religiosa de Jerusalém quanto o poder imperial de Roma. Como observa o teólogo N. T. Wright, frequentemente falhamos em perceber que os Evangelhos narram a história de como Deus se tornou rei não apenas no sentido transcendente, mas também na história concreta, desafiando todos os outros “reis” e sistemas de poder. A cruz foi o ponto de convergência onde política e religião se aliaram para eliminar aquele que ameaçava desestabilizar ambas.
A primeira ameaça era interna – Jesus confrontou diretamente a estrutura de poder religioso de sua época. O templo não era apenas um lugar de culto; era o centro econômico, político e social de Israel. Os sumos sacerdotes mantinham seu poder através de uma delicada negociação com Roma, e qualquer perturbação dessa ordem colocava tudo em risco. Quando Jesus expulsou os cambistas do templo (João 2.13-17), não estava apenas fazendo uma declaração sobre pureza ritual – estava atacando o coração de um sistema corrupto. Em Mateus 23, ele denunciou publicamente os líderes religiosos como “sepulcros caiados”, hipócritas que devoravam as casas das viúvas enquanto faziam longas orações. Essa não era retórica abstrata; era acusação direta contra uma elite que havia transformado a religião em instrumento de opressão. O Sinédrio via em Jesus não apenas um professor heterodoxo, mas uma ameaça existencial ao seu controle institucional. Como declarou Caifás com brutal honestidade política: “Vocês não entendem que é melhor que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação?” (João 11.50). Era cálculo político puro.
A segunda ameaça era externa – Jesus desafiou o próprio Império Romano, ainda que de forma radicalmente diferente do que os revolucionários zelotes propunham. Sua linguagem era inescapavelmente política: “Reino de Deus”, “Filho de Deus”, “Senhor” – todos esses eram títulos que César reivindicava para si. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento (João 12.12-15), estava encenando a profecia de Zacarias 9.9 sobre a vinda do rei verdadeiro. Era teatro político, e todos entenderam a mensagem. Não por acaso, a acusação final que levou Jesus à cruz não foi heresia religiosa, mas traição política: “Rei dos Judeus” (João 19.19). Pilatos não estava interessado em disputas teológicas judaicas; ele temia insurreição e qualquer ameaça à paz romana (Pax Romana). Quando os líderes religiosos gritaram “não temos rei, senão César” (João 19.15), estavam fazendo uma declaração política, não religiosa – escolheram o poder imperial sobre o reino que Jesus anunciava.
Essa compreensão não é novidade na tradição protestante. Martinho Lutero, ao desenvolver sua doutrina dos dois reinos, reconheceu que tanto autoridades civis quanto eclesiásticas podem se corromper e agir tiranicamente. João Calvino foi ainda mais longe nas Institutas, argumentando que quando governantes se tornam tiranos, há situações em que a resistência não apenas é permitida, mas pode ser dever dos “magistrados inferiores” proteger o povo. Abraham Kuyper, teólogo e primeiro-ministro holandês, proclamou que não há um centímetro sequer de toda a existência sobre o qual Cristo não declare: “É meu!” – incluindo a esfera política. E Dietrich Bonhoeffer pagou com a vida sua convicção de que seguir a Cristo pode exigir resistência profética contra poderes corrompidos, quando participou da conspiração contra Hitler. Esses pensadores protestantes compreenderam algo fundamental: a fé cristã não é apolítica; ela simplesmente recusa submeter-se à política como instância última.
O que isso significa para nós hoje? Primeiro, devemos abandonar a ilusão de que é possível separar completamente “religião” e “política”. Toda instituição humana – seja igreja, Estado, universidade ou corporação – envolve questões de poder, autoridade e justiça. A questão não é se a fé terá implicações políticas, mas quais implicações terá. Segundo, precisamos reconhecer que seguir a Jesus implica disposição para confrontar estruturas injustas, mesmo quando isso nos coloca em conflito com poderes estabelecidos. Como nos lembra Atos 5.29, “importa obedecer antes a Deus do que aos homens”. Isso não significa partidarismo religioso ou teocracia; significa que nossa lealdade última é a Cristo, não a qualquer sistema político ou religioso. Terceiro, devemos estar vigilantes contra a tentação que seduziu os líderes religiosos do tempo de Jesus – usar a fé como instrumento de poder e controle, em vez de como chamado ao serviço e à justiça.
A cruz nos confronta com uma verdade incômoda: os sistemas religiosos e políticos mais “respeitáveis” de sua época se uniram para executar o Filho de Deus. Não foram marginais ou revolucionários violentos que mataram Jesus – foram os guardiões da ordem religiosa e da paz imperial. Isso deveria nos manter humildes e vigilantes. Como escreveu o apóstolo Paulo em Colossenses 2.15, na cruz Cristo “desarmou os poderes e autoridades” e triunfou sobre eles. Esse triunfo não nos isenta de enfrentar esses mesmos poderes em nosso tempo; pelo contrário, nos chama a testemunhar que há um Reino maior, uma lealdade mais profunda, um Senhor que não se curva diante de nenhum César ou Caifás. Viver essa verdade pode nos custar caro – assim como custou a Jesus. Mas essa é precisamente a natureza do discipulado: seguir aquele que foi para a cruz porque recusou-se a fazer aliança com os poderes do mundo.
📘 Se Jesus foi executado porque anunciou um Reino que confronta todos os poderes, então precisamos aprender a enxergar os Evangelhos como eles realmente são.
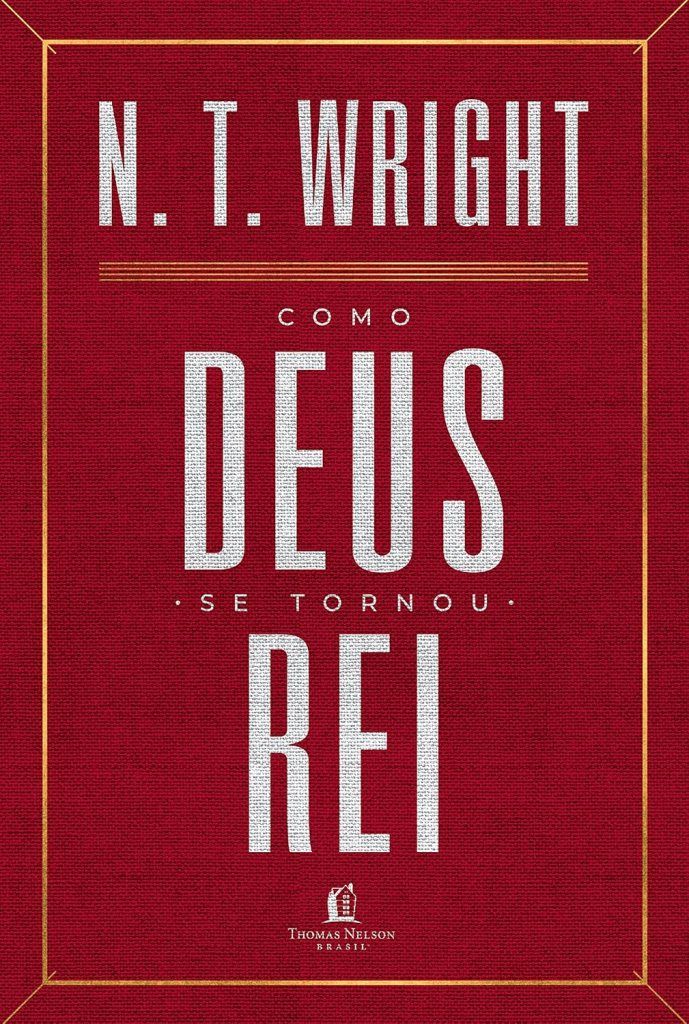
Em Como Deus se Tornou Rei, N. T. Wright mostra que a história de Jesus não é apenas espiritual ou interior – é profundamente pública, política e histórica. Wright revela como os Evangelhos narram a coroação do verdadeiro Rei, aquele cuja autoridade desafia tanto o templo quanto o império, tanto a religião quanto a política.
Se o seu coração foi movido pelo tema deste artigo, este livro é o próximo passo natural.
🔥 O Reino que levou Jesus à cruz continua a questionar todos os “reinados” do nosso tempo.









Deixe um comentário